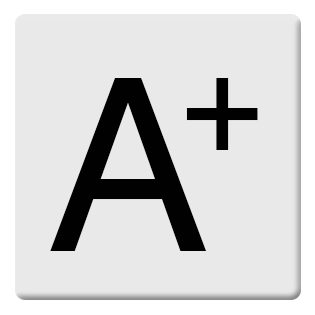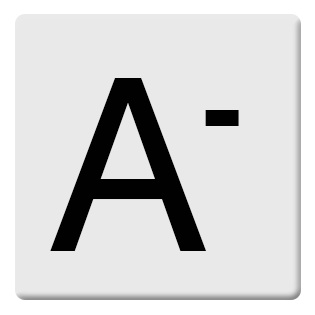Idosos narram suas infâncias na cidade de Belém
Sob a orientação da professora doutora Laura Maria Alves, o mestre em Educação pela UFPA, Antônio Valdir Duarte, dedicou sua tese de mestrado ao estudo sobre a infância em Belém no período de 1900 a 1950. Com base em entrevistas realizadas com quatro idosos, que narraram os fatos das infâncias que viveram na época da borracha, o estudioso começou a criar um referencial sobre o assunto na região Norte.
<<Procurei a história oral porque não temos nenhum documento sobre isso. A história oficial não mostra, ela nega. Nega o negro, o índio, a criança... Trabalhei nessa temática para construir um material que orientasse o grupo de pesquisadores que está se formando em Belém. Precisamos conhecer um pouco dessa identidade da criança amazônica>>, explicou Antônio Duarte.
Para começar a pesquisa, intitulada <<Memórias (in)visíveis: narrativas de velhos sobre suas infâncias em Belém do Pará>>, foram determinados alguns critérios de escolha dos entrevistados. Dentre os quais, idade igual ou superior a 80 anos e um contexto histórico de vida importante. Aliado a esses fatores, também foram consideradas as condições físicas e mentais dos idosos, ouvidos individualmente por mais de duas horas ininterruptas. A partir desses critérios, três senhoras e um senhor foram selecionados. Foram estabelecidos ainda, para cada entrevista, eixos específicos a serem abordados sobre a infância, os quais: história, espaço público, brincadeiras, trabalho e escola.
Segundo Duarte, no momento histórico da primeira metade do século XX, ocorria uma grande migração em direção à região Norte, principalmente para Manaus e Belém, quando também percebia-se um maior cuidado das famílias de todas as classes com as suas crianças, paralelamente ao abandono, responsável pela presença de muitos menores nas ruas. <<O Estado fazia com que as famílias fossem monogâmicas, que as crianças ficassem dentro de casa, mas apesar de tudo já havia um reflexo da saída da criança para as ruas para fazer pequenos trabalhos, como o de engraxate>>, observou.
Nas narrativas desses idosos, não foi apenas uma face da infância que foi revelada, mas todo um quadro sócio-político vivido na época da borracha. Embora o período analisado tenha sido o de 1900 a 1950, momento de decadência da borracha, Belém ainda era sinônimo de riqueza e da imponência de Antônio Lemos.
Os idosos entrevistados fizeram muitas relações com os espaços que freqüentaram, ou melhor, os poucos espaços que eles podiam freqüentar. A maioria deles veio de classes populares. <<O senhor Osmar, por exemplo, foi um festeiro, ia às festas e nos eventos que ocorriam nos coretos das praças da cidade. Já as mulheres eram mais retraídas por conta das restrições feitas pelos pais>>, avaliou Duarte.
Outro aspecto abordado na dissertação foi o da educação. Mesmo com o surgimento da República, as escolas criadas na época eram insuficientes para atender as demandas. Em geral, havia a discussão da co-educação, onde meninos e meninas pudessem estudar juntos, na mesma escola. Naquele tempo, o Lauro Sodré era para os meninos e o Gentil Bittencourt, para as meninas, sendo que os mais pobres estudavam no Instituto Orfanológico, em Outeiro. Sendo que a idéia central do Governo era a de afastar as pessoas, como crianças ociosas, idosos e mendigos, que perambulavam pelas ruas do centro da cidade (Cidade Velha e Campina), que era visto como a Paris na América. Para esses, existia o asilo Dom Macedo Costa, por exemplo, que ficava 6 km distante de Belém e com difícil acesso.
Uma das entrevistadas na pesquisa, inclusive, foi moradora do Dom Macedo Costa. Muitos achavam que lá só viviam pessoas idosas, mas na verdade, também havia espaço para crianças, como Rosa, que morou lá desde os dois anos de idade. Quem coordenava o espaço eram as religiosas Filhas de Santana, as mesmas que gerenciam, até hoje, os colégios Gentil Bittencourt e Santa Rosa. A questão da opressão, da obediência, do castigo foi bastante suscitada na narrativa dela.
<<A senhora Rosa mostrou um lado surpreendente da infância naquele período, como o abandono na roda dos expostos (artefato de madeira fixado em hospitais onde crianças eram deixadas para adoção). Por isso, faço também uma abordagem sobre a Casa de Misericórdia, onde encontravam-se muitos menores abandonados>>, ressaltou o estudioso.
Segundo Antônio Duarte, a infância no Brasil, e principalmente na Amazônia, foi uma infância negada de cuidados por parte do poder público. <<As políticas públicas eram insuficientes para todas as necessidades. A criança da época era muito regrada. Embora tivessem brincadeiras em casa e nas ruas, muitos deles viveram uma infância institucionalizada>>.
Texto: Dandara Almeida - Assessoria de Comunicação Institucional
Últimas Notícias
- Ensino de Libras é tema de dois eventos na UFPA
- Inscrições nova Especialização em Controle da Violência vão até o dia 30
- Lançado livro paradidático que aborda temas fundamentais para a Amazônia
- Parceria em campanha reforça Banco de Sangue do Barros Barreto
- Escola de Música da UFPA apresenta recital junino no São José Liberto
- Nova Diretoria do Núcleo de Meio Ambiente toma posse na UFPA
- UFPA vai pedir audiência sobre Pau D`Arco na Comissão Interamericana de DH
- Universidade apresenta software sobre regularização fundiária