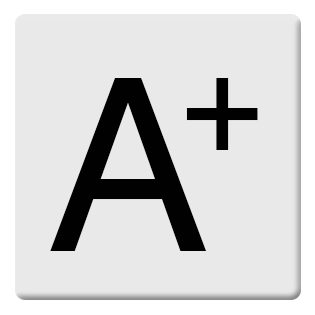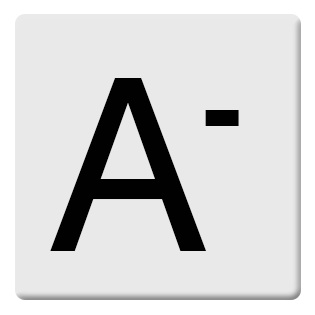Imigração japonesa no Pará foi intensa ao longo do século XX
Dezesseis de setembro de 1929. Nesta data, desembarcava o primeiro grupo de imigrantes japoneses em Belém, no Estado do Pará, formado por 43 famílias, totalizando 189 pessoas. Esse fluxo em direção ao Estado se deu ao longo do século XX, basicamente, durante dois períodos: de 1929 a 1937 e de 1952 a 1962. Vários aspectos motivacionais contribuíram para a vinda desse povo oriental para o Pará.
As motivações variam de acordo com os períodos de imigração. De acordo com o professor de História da Escola de Aplicação (antigo NPI) da Universidade Federal do Pará (UFPA) e mestre em História Social da Amazônia, Tatsuo Ishizu, é imprescindível levar em conta em quais circunstâncias a imigração ocorreu. “Para sinalizar as causas desse fluxo populacional, é necessário considerar o contexto histórico em que o fenômeno aconteceu. No período de 1929 a 1937, é possível apontar, como motivação do imigrante, a possibilidade de ele ser dono de 25 hectares de terras no Pará. Já para o governo do Estado, na época, a chegada dos japoneses resolveria o problema do despovoamento. Enquanto, para o governo japonês, o fluxo seria a saída para o grande número de camponeses empobrecidos desde a Reforma Meiji, (1868), a qual resultara em convulsões sociais”, explica o docente.
Pós-guerra - No segundo período de imigração, a partir de 1952, as motivações foram outras. Segundo o historiador, os estrangeiros vieram para o Pará em busca de encontrar, fora do Japão, condições de vida melhor. No que tange ao governo local, a produção de juta, na Bacia Amazônica, fora o que mais despertou o interesse pela imigração. Quanto ao governo japonês, o fluxo se deu, sobretudo, de acordo com Tatsuo Ishizu, como uma solução para o problema social criado com o retorno dos japoneses da região continental da Ásia, após o fim da Segunda Guerra Mundial.

No primeiro período de imigração japonesa no Estado do Pará, os estrangeiros se concentraram nos núcleos coloniais. A maior colônia era a do Acará (a qual, na década de 1940, passou a se chamar Tomé-Açu). As outras eram, conforme relata o pesquisador, as colônias de Monte Alegre e de Castanhal. Na segunda fase da chegada dos japoneses, o número desses núcleos coloniais aumentou consideravelmente.
A relação dos imigrantes com a população local também difere nos dois períodos. “Até 1935, os japoneses foram muito bem recebidos, sendo considerados os ‘salvadores da pátria’. Acreditava-se, na época, que eles trariam o conhecimento da tecnologia agrícola e o progresso para o Estado do Pará, que não vivia mais os tempos faustos da Época da Borracha. Já depois da década de 1950, havia certa indiferença em relação aos japoneses. Os estrangeiros eram vistos, pela população local, como aqueles que vieram de longe e conseguiram prosperar aqui”, diz o historiador.
Compreendendo o processo histórico - O professor é autor da Dissertação Imigração e ocupação na fronteira do Tapajós: os japoneses em Monte Alegre (1926-1962), defendida no Programa de Pós-Graduação em História Social da Amazônia da UFPA. “O meu objetivo inicial era olhar mais de perto o processo da imigração japonesa no Pará e na Amazônia. Uma das coisas que me perturbavam era a visão generalizante dos imigrantes japoneses na Amazônia, como se tivesse ocorrido apenas uma única história do fluxo de japoneses para a região, quando, na verdade, esse processo se deu em contextos e localidades diferentes. Assim, queria compreender o processo histórico da imigração distante das histórias épicas que os memorialistas construíram”, defende o pesquisador.
Quanto aos resultados que obteve com a sua pesquisa, o docente diz que “a história da imigração japonesa na Amazônia é uma construção dos memorialistas. Neste sentido, não existiu historicamente ‘uma imigração japonesa na Amazônia’. Assim, para compreender esse fluxo populacional em direção à região, é necessário estudar e compreender a dinâmica histórica de cada colônia e de cada assentamento, existentes nos diferentes períodos de imigração”, acrescenta.
O fim da imigração - A imigração japonesa no Pará cessa, portanto, por vo lta de 1962 – em 1965, segundo o historiador, eram 46 mil imigrantes que haviam desembarcado no porto paraense desde 1952. De acordo com o professor, os últimos japoneses que chegaram ao Estado eram técnicos, formados em cursos de estabelecimentos de ensino do país oriental, os quais vieram como contratados na condição de auxiliares das Cooperativas Agrícolas que existiam nas colônias locais, como as de Tomé-Açu e Monte Alegre. Conforme o docente, “para o fim dos processos de imigração no Estado, contribuiu a recuperação econômica do Japão, em 1960, conhecido como ‘milagre econômico do Japão’, finaliza Tatsuo Ishizu.
lta de 1962 – em 1965, segundo o historiador, eram 46 mil imigrantes que haviam desembarcado no porto paraense desde 1952. De acordo com o professor, os últimos japoneses que chegaram ao Estado eram técnicos, formados em cursos de estabelecimentos de ensino do país oriental, os quais vieram como contratados na condição de auxiliares das Cooperativas Agrícolas que existiam nas colônias locais, como as de Tomé-Açu e Monte Alegre. Conforme o docente, “para o fim dos processos de imigração no Estado, contribuiu a recuperação econômica do Japão, em 1960, conhecido como ‘milagre econômico do Japão’, finaliza Tatsuo Ishizu.
Texto: Paulo Henrique Gadelha – Assessoria de Comunicação da UFPA
Últimas Notícias
- Ensino de Libras é tema de dois eventos na UFPA
- Inscrições nova Especialização em Controle da Violência vão até o dia 30
- Lançado livro paradidático que aborda temas fundamentais para a Amazônia
- Parceria em campanha reforça Banco de Sangue do Barros Barreto
- Escola de Música da UFPA apresenta recital junino no São José Liberto
- Nova Diretoria do Núcleo de Meio Ambiente toma posse na UFPA
- UFPA vai pedir audiência sobre Pau D`Arco na Comissão Interamericana de DH
- Universidade apresenta software sobre regularização fundiária